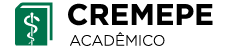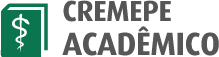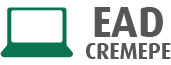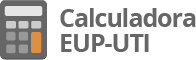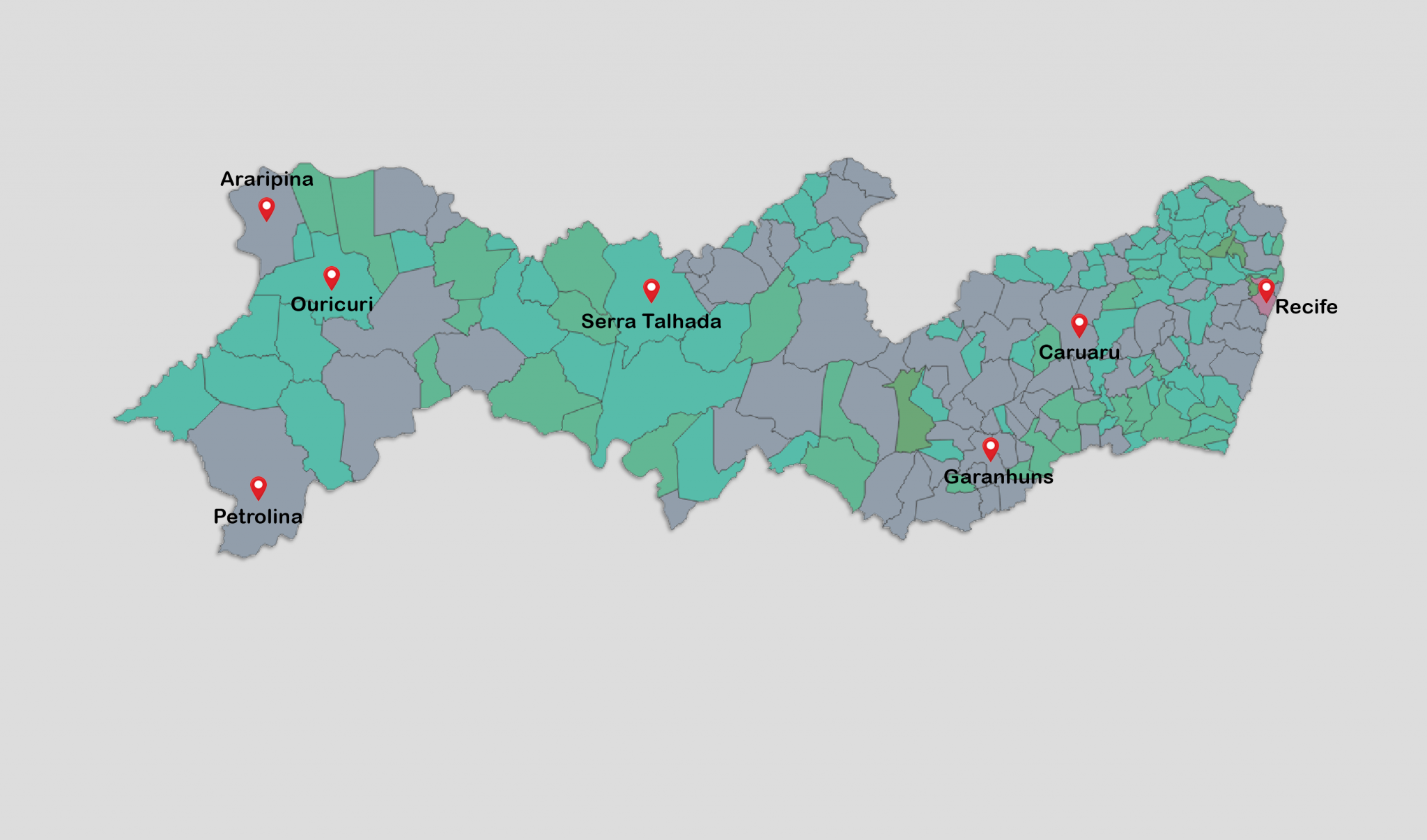O paciente vai ao médico. O profissional faz perguntas, examina-o e indica o tratamento que considera mais adequado. A cena, corriqueira em consultórios, foi diferente com a assistente social Tereza de Souza Rocha, 44. Sua endocrinologista apresentou duas opções para tratar um problema de tireóide: ela poderia tomar iodo ou ser operada.
Cada tratamento implica riscos e benefícios diferentes. A decisão final será da paciente. “Quem toma iodo não pode engravidar e tem que ficar um tempo isolado. Mas acho que vou optar por ele, pois tenho medo de cirurgia”, diz ela.
Assim como a endocrinologista de Tereza, outros médicos vêm adotando nos consultórios uma prática chamada decisão compartilhada. Nesse caso, entre a chegada do paciente e a prescrição da receita, há várias etapas.
O médico apresenta as opções de tratamento, mostrando a eficácia e os riscos envolvidos em cada uma delas. Pode ser que ele mostre dados e pesquisas para fundamentar a explicação. No final, o paciente decide, sozinho ou com o médico, qual é o tratamento que mais lhe convém.
Com vários adeptos no exterior –principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde começou a ser praticada há aproximadamente 30 anos– , a decisão compartilhada entre médico e paciente vem sendo incorporada, aos poucos e em diferentes graus, pelos profissionais da saúde no Brasil, começando pelas discussões no meio acadêmico. “Como trabalhamos muito a bioética durante a graduação, essas questões vão impregnando a formação dos alunos, que passam a agir assim quando vão para o mercado de trabalho”, diz José Roberto Goldim, professor de bioética e membro do Comitê de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital São Lucas da PUC/RS. O Comitê de Bioética do Hospital de Clínicas dá consultoria desde 1994 para médicos e pacientes que queiram ajuda em decisões delicadas.
No entanto, algumas questões relacionadas ao tema causam polêmica. Os tipos de caso em que ela deve ser usada, a forma de o médico dar as informações e as dificuldades de usar o método em consultas de curta duração, como na saúde pública, são pontos discutidos. Além disso, os profissionais que agem dessa maneira são minoria. “O Brasil tem forte tradição de uma medicina paternalista. Parte-se do princípio de que, como o médico é detentor do conhecimento e tem interesse legítimo no bem-estar do paciente, é ele quem deve tomar a decisão. A participação do paciente nesse processo inexiste ou é apenas uma formalidade”, diz Gabriel Oselka, coordenador do Centro de Bioética do CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo).
Oselka, que é pediatra, conta que utiliza a decisão compartilhada em seu consultório inclusive em algumas situações corriqueiras, como uma infecção bacteriana na garganta- que pode ser tratada com uma dose única de injeção de antibiótico ou com medicamentos de administração oral por tempo prolongado. “O resultado final é o mesmo. Mas há médicos que, simplesmente por preferência, prescrevem uma ou outra forma. Respeitar a autonomia do paciente é mostrar os dois caminhos.”
Código de ética destaca autonomia do paciente
A autonomia do paciente é o conceito que está no centro da discussão. O código de ética médica menciona o direito de o paciente “decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar”, de ser esclarecido e de consentir o tratamento. “Há quem acredite que a máxima autonomia possível é a que o paciente tem de acatar ou não uma decisão médica. Não sou tão radical. Acho que é possível construir uma relação em que as decisões sejam compartilhadas”, diz José Luiz Telles de Almeida, coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Segundo ele, para isso é necessário que haja troca de informações efetiva. “Posso jogar um monte de informações e o paciente não entender nada”, alerta.
O reumatologista Marcos Bosi Ferraz, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), também diz que a decisão do paciente deve ser amparada e orientada pelo médico. “O profissional tem que dar o máximo de informações que ajudem o paciente a se posicionar.”
Ferraz cita uma pesquisa com decisão compartilhada que ele realizou em 1994 pelo Departamento de Reumatologia da Unifesp. Foram acompanhados 17 pacientes que tinham doenças nas articulações.
Eles tomavam um medicamento que causava lesões no fígado e, por isso, deveriam periodicamente fazer uma biópsia do órgão, o que significava uma internação e alguns riscos, ainda que em pequeno grau. Quem não fizesse a biópsia poderia não saber em que grau o fígado estaria sendo prejudicado, podendo ter, no futuro, doenças como a cirrose.
Foi perguntado aos pacientes se eles preferiam submeter-se à biopsia, correndo risco de curto prazo, ou deixar de fazê-la, correndo risco de longo prazo. A maioria preferiu a segunda opção.
Os médicos também foram questionados sobre qual decisão tomariam se tivessem o problema e disseram, ao contrário dos doentes, preferir correr o risco de curto prazo.
“Na época, a biópsia era indicada pelos médicos. Hoje não é mais necessário fazer, pois conhecemos mais a droga e sabemos que a chance de gerar cirrose é quase inexistente. O paciente precisa opinar, porque é ele que vai sofrer as conseqüências uma vez submetido a uma intervenção”, diz o reumatologista.
A falta de informação foi um problema para a advogada C. M., 59. Seu pai, de 90 anos, fraturou o fêmur pela segunda vez. Se ele não for operado, corre o risco de ter trombose e pneumonia e de ficar paraplégico. Mas, como ele é hipertenso, a anestesia geral necessária à operação pode causar complicações. Da primeira vez, a família optou pela cirurgia. Após ser operado, ele teve infecções, trombose e alucinações. “Os médicos falaram que ele poderia ter alguns problemas, mas não mostraram todos esses riscos. Para que o paciente ajude a decidir, os médicos têm que fornecer todas as informações”, diz. Desta vez, C.M. e a família estão “em um impasse” e não sabem por qual tratamento optar.
Já a dentista Camila Mott Tavares, 32, e o engenheiro Paulo Henrique Tavares, 34, não tiveram problemas com falta de informação. Há um ano e meio tentando engravidar, eles procuraram um especialista e descobriram a causa do problema –que poderia ser tratado de três maneiras diferentes.
Explicação em quadros, apostilas, artigos e endereços na internet apontados pelo médico serviram de base para a escolha do casal. “Ele explicou o problema inteiro e deu muita informação para sabermos o que estava acontecendo. Como ele nos informou muito bem, ficamos seguros e à vontade para fazermos nossa escolha”, diz Paulo Henrique, que comemora o segundo mês de gestação de Camila.
Isso porque o paciente só estará apto a participar da decisão quando estiver muito bem informado, de acordo com o ginecologista Paulo Ayroza Ribeiro, da Santa Casa de São Paulo.
Entretanto nem sempre parte do médico compartilhar a decisão do tratamento. “Não aceito nada imposto. Tenho a necessidade de saber por que terei de tomar isso ou aquilo”, afirma a analista de informação e bibliotecária Miriam Piazza, 47, que, diante de diversas opções para tratar os sintomas da menopausa, escolheu a que achou menos invasiva e mais segura. “Muitas vezes, o próprio paciente traz questões sobre tratamentos que viu nos jornais ou na internet”, confirma o oncologista Mário Mourão, chefe do Departamento de Mastologia do Hospital do Câncer, em São Paulo.
Algumas instituições estão pesquisando a melhor forma de o médico passar as informações ao paciente. A universidade canadense McMaster, por exemplo, faz estudos com metodologias (esquemas feitos em painéis que são apresentados pelo médico) para tornar as explicações mais compreensíveis, facilitando a decisão do paciente. “Se queremos ter decisões compartilhadas, temos que resolver o problema de comunicação entre as partes”, diz o médico Amiran Gafni, professor da universidade. De acordo com José Roberto Goldim, o Brasil trabalha mais na linha de uso de uma linguagem menos acadêmica e mais coloquial. “Vários estudos mostram que os pacientes se baseiam basicamente em informações verbais para tomar decisões. Quando você dá documentos escritos, eles quase não lêem.”
Mas existe ainda o caminho inverso: quando o paciente procura o especialista munido de tantas informações que, antes mesmo do diagnóstico médico, palpita sobre o melhor tratamento.
É o caso da decoradora Vânia Scalamandré Duarte Garcia, 45, que, por conta de manchas de sol em sua pele, foi à dermatologista com a idéia fixa de fazer um peeling abrasivo.
“Queria logo resolver isso e achei que essa seria a melhor escolha. Depois de muita conversa, ela me convenceu a fazer um tratamento menos agressivo”, conta a decoradora, que é favorável à decisão compartilhada quando se trata de medicina estética. “É complicado ter uma decisão compartilhada em casos graves, em que, se não tomar tal remédio, o paciente poderá até morrer.”
Médicos discutem quando usar a decisão compartilhada
Uma das questões discutidas por médicos e pesquisadores de bioética é quando utilizar a decisão compartilhada. “Na minha opinião, ela pode ser usada em qualquer caso em que o paciente tenha condições de assumir as decisões e que o médico tenha esclarecido tudo para ele”, afirma José Luiz Telles de Almeida.
Em geral, os médicos usam o método quando há dois ou mais tratamentos com níveis semelhantes de eficácia. “A decisão conjunta ocorre quase sempre quando há tratamento com resultados parecidos. Como lidamos com medicina de evidência, só são apresentados os tratamentos que cientificamente tenham os melhores resultados”, diz o oncologista Ademar Lopes, diretor do Departamento de Cirurgia Pélvica do Hospital do Câncer.
A prática também é usada com freqüência quando se trata de doenças mais graves. A oncologia, por exemplo, é uma especialidade que já vem trabalhando com a decisão compartilhada há bastante tempo.
Casos que envolvam alterações funcionais e estéticas –como a retirada de um seio devido a um câncer de mama ou a perda da potência sexual após uma cirurgia de próstata– ou quando a vida da pessoa pode ser prolongada por pouco tempo à custa de tratamentos muito agressivos costumam ser discutidos com o paciente.
“Muitas vezes as alternativas são comparáveis em termos de chance de cura, variando apenas os efeitos colaterais. Quem sofre de câncer de próstata, por exemplo, pode ser submetido a uma cirurgia, a uma radioterapia ou a uma braquiterapia [implante de sementes radioativas]”, diz João Víctor Salvajoli, coordenador do setor de radioterapia do Hospital do Câncer.
Emergências
Dividir a escolha com o paciente, no entanto, está descartado em situações de urgência ou quando há apenas um tratamento seguro. “Numa apendicite, não há discussão a ser feita. Ou você opera ou você opera”, diz a reumatologista Emília Sato, chefe do Departamento de Medicina da Unifesp.
A médica, que compartilha as decisões com seus pacientes, lembra que o método não deve ser obrigatório. “Tem gente que não quer tomar parte e prefere que o médico escolha.” Muitas vezes, quando o paciente está fragilizado e não se sente apto para escolher, a família é consultada.
Também é preciso ter tempo disponível para usar a técnica. “Uma consulta muito curta não dá possibilidade de o médico colocar isso para o paciente”, diz Sato. Segundo a reumatologista, o fato de o paciente participar da escolha ajuda a aumentar a adesão ao tratamento, pois nesse caso é maior a probabilidade de ele seguir as instruções.
Mas, em alguns casos, o paciente resiste a esse tipo de abordagem. O motorista Sebastião Alves Filho, 40, diz achar complicado que o paciente tenha que escolher. “O médico é quem sabe o que é melhor, pois estudou para isso”, diz.
Para José Luiz Telles de Almeida, além da aceitação do paciente, é necessário que o profissional esteja aberto a estabelecer uma relação de possibilidades com ele. “O ideal é que não se tenha só um caminho, mas que possam ser construídos possíveis caminhos para que o paciente perceba qual deles vai de encontro aos seus desejos e ao seu modo de vida.”
Decisão compartilhada é usada para evitar processos
Em alguns casos, a decisão compartilhada é usada para evitar processos judiciais. É a chamada medicina defensiva, em que pacientes assinam documentos atestando o esclarecimento e a aceitação do tratamento a ser seguido.
“Essa forma de agir não traz nenhum avanço para a qualidade da relação entre médico e paciente”, opina José Luiz Telles de Almeida, coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz. Segundo ele, a prática ganhou força nos Estados Unidos na década de 80 e, no Brasil, apareceu de forma sistemática no fim dos anos 90.
O pediatra Gabriel Oselfa conta que sua experiência em conselhos médicos mostrou que muitas queixas de pacientes poderiam ser evitadas se tivesse havido clareza de diálogo. “Apesar de o mais importante na decisão compartilhada ser o direito do paciente à autonomia, trata-se também de uma forma de evitar aborrecimentos, pois uma das melhores maneiras de aprofundar a relação entre médico e paciente é por meio da informação.”
O professor de medicina legal da Universidade Federal de Paraíba Genival Veloso de França, também presidente de honra da Sociedade Brasileira de Direito Médico, diz que a medicina defensiva utiliza exames subsidiários em excesso. “Não é difícil entender por que os custos do paciente ou dos planos de saúde aumentam de forma palpável”, afirma.
Pesquisa feita pelo Colégio Americano de Cirurgiões revelou que metade dos exames solicitados aos pacientes era reconhecidamente dispensável, entretanto era requerida como forma de autoproteção contra possíveis processos de má conduta.
Médico que atua no Canadá defende decisão compartilhada
Grande defensor da decisão compartilhada, Amiran Gafni, professor de Economia da Saúde na Universidade McMaster, no Canadá, falou à Folha de São Paulo por telefone.
Folha – O que é decisão compartilhada?
Amiran Gafni – Podemos definir três casos extremos de tomada de decisão entre médico e paciente. De um lado, há o modelo paternalista, em que o médico dá pouca informação e apenas diz ao paciente o que fazer. O modelo oposto é o informativo. Nele, o médico provê informações sobre o tratamento, o paciente pensa sobre o tema, faz a escolha e o médico aceita. Já na decisão compartilhada, que se situa entre os dois modelos, o paciente não decide sozinho: o médico se envolve na escolha. Além de explicar as opções de tratamento, ele escuta a pessoa. A decisão é feita em conjunto. Mas é importante dizer que não acredito que haja um jeito certo de tomar decisões. O paciente pode não querer opinar ou o médico pode achar que só o paciente deve escolher. Aqui a decisão não é compartilhada nem paternalista nem informativa. Algumas atitudes ficam entre esses três modelos. Nem tudo precisa de um nome.
Folha – Em que situações essa prática deve ser usada?
Gafni – Em doenças graves, quando há uma grande decisão, com certeza. Mas não só nesses casos. Estamos pesquisando se a decisão compartilhada pode ajudar diabéticos no estágio inicial, por exemplo. Se o médico discutir com o paciente como ele pode emagrecer e fazer exercícios em vez de só dizer que ele tem que fazer isso, achamos que ele será mais bem-sucedido. Mas, se você tem só um resfriado, não precisa discutir duas horas com o médico. Também quando é uma emergência não há tempo para a decisão compartilhada.
Folha – Muitos médicos agem assim?
Gafni – Não há evidências, mas sinto que os jovens são mais abertos a isso. A questão está mais proeminente. A cada dois anos, há uma conferência internacional sobre o tema. A mudança não ocorre do dia para a noite.
Folha – Você esteve no Brasil recentemente. Como está a discussão aqui?
Gafni – Conversei com vários estudantes de medicina e eles foram muito receptivos à idéia. A única questão colocada é que na saúde pública há muitos pacientes analfabetos. O Brasil poderia pesquisar formas de informar melhor essas pessoas. E nós, canadenses, poderíamos adaptá-las, pois também temos analfabetos.
Folha – Como reagem os pacientes?
Gafni – Em geral, os mais jovens aceitam melhor. A geração mais velha foi educada achando que não deve fazer perguntas aos médicos. Mas isso não significa que eles não queiram ouvir. Talvez eles não saibam que é uma possibilidade. É preciso oferecê-la.
Da Assessoria de Imprensa do Cremepe.
Com Informações da Folha de São Paulo.
JORNALISTAS:
FLÁVIA MANTOVANI
ANA PAULA DE OLIVEIRA