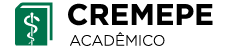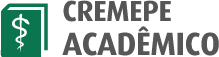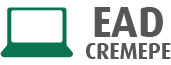Polêmica sempre foi a praia de Oliver Stone. Com exceção de “Platoon”, seus filmes –“Wall Street”, “JFK” e “Assassinos por Natureza”, entre outros– dividem opiniões. O cineasta estima que, na média, angarie entre 30% e 40% de comentários positivos na imprensa norte-americana. Sua conta baixou para algo entre 15% e 20% com “Alexandre”, épico de US$ 150 milhões que, depois de três anos em produção, arrecadou apenas US$ 34 milhões nos EUA.
A recepção foi bem diferente em cerca de 20 países da Europa e da Ásia, onde o filme ocupou o primeiro lugar no ranking de bilheteria. Em entrevista chorosa ao jornal “The New York Times”, Stone lamentou a “apatia” norte-americana à história antiga, mas elogiou europeus e asiáticos por seus conhecimentos sobre o personagem.
Brasileiros ficarão ao lado dos apáticos ou dos ilustrados? A resposta talvez tenha mais a ver com resistência física e paciência. Stone leva quase três horas para contar a trajetória de Alexandre, o Grande (Colin Farrell), da infância à morte precoce. Embora houvesse matéria-prima para um drama que privilegiasse a ação, Stone preferiu “desconstruir” o mito ao torná-lo mais humano (e frágil), cheio de angústias que deságuam, nos últimos 30 minutos, em caleidoscópio bem à moda do diretor.
O Alexandre do filme é desenhado pelas recordações de seu orgulhoso braço direito, Ptolomeu (Anthony Hopkins), a lembrar que a história não vive apenas de fatos, mas de relatos e versões. Semelhanças entre esse construtor de império e o mundo do século 21 não parecem ocasionais, mas as eventuais boas intenções geram algo híbrido e pesado –a velha noção hollywoodiana de espetáculo usada com propósitos não-hollywoodianos, em um produto do “sistema” que investe contra regras da indústria. Naufrágio, sim, mas em estilo titânico.
Da Assessoria de Imprensa do Cremepe.
Com Informações do Guia da Folha.
Jornalista: Sérgio Rizzo
- Sem categoria 2
- Superprodução de Oliver Stone humaniza Alexandre, o Grande